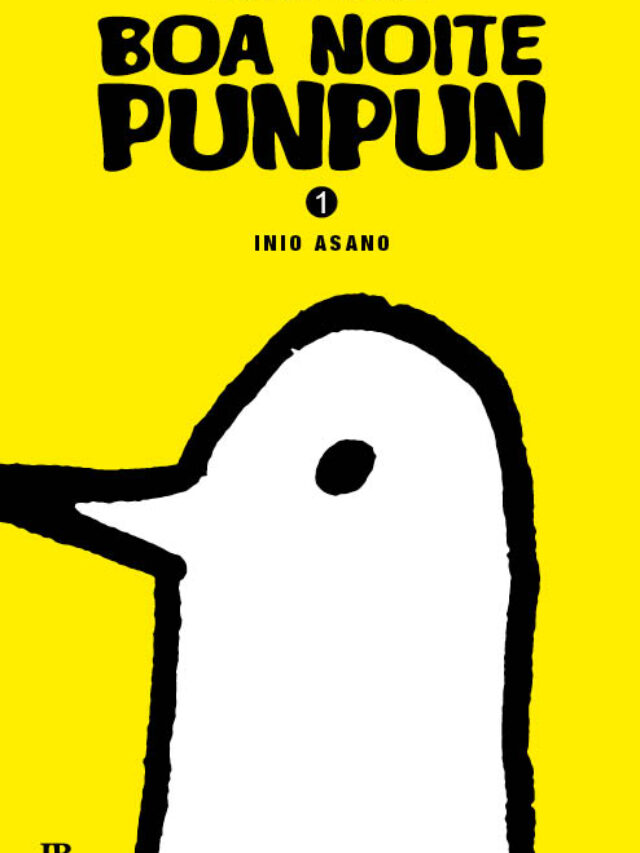Crítica de Filme | RoboCop (2014)
Pedro Esteves
|21 de fevereiro de 2014
Assistir ao novo RoboCop, de José Padilha (Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 – agora o inimigo é outro), é, na visão do diretor, assistir a um filme brasileiro e não um filme estadunidense. É também, na visão aqui expressa, ver não a um Remake, mas a um longa que se assemelha mais a um Reboot. A discussão entre o humano versus a máquina se mantém, a discussão sobre o poder das grandes corporações é ainda fundamental, os dois vilões são praticamente os mesmos. Contudo, o enfoque e o estilo mudam e com isso muda o debate que a sátira de Verhoeven propunha sobre um futuro com os ideais do neoliberalismo (opa, não estamos um pouco dentro deste mundo?). Padilha não faz um mero Remake justamente por querer discutir um outro futuro, o futuro em que robôs são autônomos e substituem a força da lei. Um futuro onde os EUA não precisam mais que seus soldados morram em invasões e ocupações de outros países, pois os drones fazem quase todo o trabalho, inclusive fuzilar crianças.
>>> José Padilha e elenco lançam RoboCop no Rio
A história se passa no ano 2028 e um conglomerado multinacional OMniCorp é o centro de robótica. Fora dos Estados Unidos, os drones são usados há anos como força militar, mas uma lei proíbe que eles sejam utilizados dentro dele. Para convencer a população estadunidense a apoiar a utilização de drones dentro de seu país, a empresa resolve fazer uma inimaginável campanha de marketing: construir um novo tipo de autômato, o RoboCop, parte robô parte ser humano. Para tanto eles se utilizam de Alex Murphy (Joel Kinnaman), policial criticamente ferido. O maior enfoque, como podemos notar na sinopse, é o poder das grandes corporações, a manipulação midiática. Somando-se a isso a luta do ser humano contra a máquina, do ser humano que é controlado ou controla a máquina.
O RoboCop deste, digamos, Reboot é mais humanizado que da versão original, suas relações emocionais são mais exploradas no roteiro e na interpretação, além dele não acordar sem memória como no filme original. Sua família aparece constantemente na história e serve como o ponto de sentimentalismo, que leva a “redenção” de Alex Murphy. A disputa proposta entre homem e máquina acaba por ser, assim, muito mais hollywoodiana que nos outros filmes, mais “mamão com açúcar”, culminando em um confronto final, no mínimo, fraco em praticamente todos os quesitos: sem ritmo, sem engenhosidade, sem profundidade e sem emoção, um final hollywoodiano.
No primeiro longa, a escolha da redenção surge pela memória, pelo sentimento, mas se dá pela lógica humana contra a lógica forçosa das máquinas. Na produção atual, a redenção é a mera escolha movida pelo sentimento de amor (igual a quase todos os outros filmes hollywoodianos). Como que em uma propaganda de que o amor supera a dominação e o poder da racionalidade e, como uma propaganda, não tem profundidade alguma.
O engraçado é que o debate sobre o uso de drones também é mal explorado e acaba por ficar em segundo plano; em verdade, em terceiro, aparecendo no começo da película, sendo o mote da história, e aparecendo somente ocasionalmente para pontuar a história. O debate sobre a mídia e as grandes corporações acaba por ser o mais bem feito, principalmente o primeiro, começando no plano inicial e terminando no último. Na verdade, antes do plano inicial, quando aparece o leão da Metro Goldem Mayer, já temos a discussão posta, a falsidade do que é o próprio Cinema, que culmina com um fantástico primeiro plano do filme: um plano contínuo que começa na nuca do apresentador de televisão de extrema direita (Samuel L. Jackson, muito bem) e o contorna. Delicado plano que já nos mostra o que será uma parte da estética da produção.
O diretor e seu fotógrafo (Lula Carvalho) optaram por criar dois núcleos de emoções imagéticas: o mundo dos ricos, das grandes corporações e da televisão, e o mundo dos outros, onde existe a violência. No primeiro, os planos são quase todos travelings calmos e serenos. No segundo, a câmera está muito mais para “O Resgate do Soldado Ryan” “Tropa de Elite”: câmera na mão. Essa estética cumpre sua função com muita eficiência, contrapondo os dois mundos e dando um ar de falsidade ao mundo rico, apesar de chegar a saturar em alguns momentos, pois os dois tipos de planos dominam praticamente todo o filme.
A interessante montagem de Daniel Rezende, que estava nos sets de filmagem e discutia os planos com o diretor e o fotógrafo, complementa o trabalho muito bem, principalmente na primeira parte do filme em que não temos o RoboCop ainda. Sendo honesto, essa parte, antes do personagem principal, é a melhor. Inclusive a cena de ação mais emocionante é a cena mais “Tropa de Elite” do longa, com Murphy ainda todo humano em um tiroteio. É claro que há uma mudança de estética proposital e conceitualmente acertada nas cenas de ação quando temos o RoboCop: elas ficam mais paradas e diretas, como um Robô. Entretanto, essa escolha foi executada de forma que a emoção pretendida nos tiroteios foi quase que anulada, parecendo mais cenas de videogame, sem que fosse essa a intenção.
A trilha sonora, do também brasileiro Pedro Bromfman, está muito bem desenvolvida no filme, pontual e precisa, visitando o velho tema e entrando com outras músicas. Por falar em pontualidade, a cena em que RoboCop reencontra sua família pela primeira vez é um ponto estético fora da curva: com um belo plano muito mais artístico que o longa em si, totalmente fora de qualquer concepção da película.
Por fim, RoboCop é um filme hollywoodiano feito por um brasileiro e não o contrário, como pretende o diretor (talvez ele deva rever Paris, Texas de Win Winders), muito bem feito, diga-se de passagem, politizado e denunciatório de políticas atuais e futuras. Esteticamente não traz nada de novo, mas nos faz pensar.
BEM NA FITA: Muito bem feito; politizado; reflexivo; discussão de um novo futuro.
QUEIMOU O FILME: Não traz nada de novo esteticamente; final hollywoodiano.
[embedvideo id=”OSCyZOQFq0U” website=”youtube”]
FICHA TÉCNICA:
Gênero: Ação
Direção: José Padilha
Roteiro: James Vanderbilt, Joshua Zetumer, Nick Schenk
Elenco: Abbie Cornish, Aimee Garcia, Douglas Urbanski, Gary Oldman, Jackie Earle Haley, Jay Baruchel, Jennifer Ehle, Joel Kinnaman, John Paul Ruttan, Marianne Jean-Baptiste, Melanie Scrofano, Michael K. Williams, Michael Keaton, Miguel Ferrer, Samuel L. Jackson, Tommy Chang, Zach Grenier
Produção: Eric Newman, Gary Barber, Marc Abraham, Roger Birnbaum
Fotografia: Lula Carvalho
Duração: 117 min.
Ano: 2013
País: Estados Unidos
Cor: Colorido
Estreia: 21/02/2014 (Brasil)
Distribuidora: Sony Pictures
Estúdio: Strike Entertainment
Classificação: 14 anos
Informação complementar: Remake do clássico de Paul Verhoeven, dirigido pelo brasileiro José Padilha.